Por Leopoldo Gil Dúlcio Vaz
A série Sociedade dos Poetas Esquecidos, publicada no Jornal Pequeno e exposta no mural da Academia Ludovicense de Letras, nasceu do desejo de recuperar a efervescência poética de São Luis a partir dos anos 1800, que por razões diversas — políticas, editoriais, institucionais — acabou marginalizando da historiografia oficial essas vozes, não como curiosidade arqueológica, mas como parte viva da nossa identidade cultural.
Não sou poeta, nem historiador literário — sou um professor que trabalha com a organização dos saberes. A partir da Ciência da Informação, compreendi que o esquecimento cultural não é espontâneo: ele é produto de falhas na circulação, registro e acesso à informação. Assim, decidi aplicar os princípios da metainformação à literatura maranhense, buscando os “resquícios do passado” que ainda resistem em bibliotecas, jornais antigos e memórias pessoais.
A série destaca alguns nomes, autores cuja produção revela lirismo, crítica social, experimentação estética — mas que não figuram nos compêndios tradicionais. Ao trazer trechos de seus poemas e contextualizar suas trajetórias, buscamos não apenas homenageá-los, mas reintegrá-los ao circuito da memória literária.
A ALL acolheu a série com entusiasmo, abrindo espaço físico e simbólico para sua circulação. O mural da Academia tornou-se um lugar de memória, onde o público pode acessar livremente os textos e refletir sobre os mecanismos de exclusão cultural. Essa parceria reforça o papel da ALL como instituição viva, comprometida com a pluralidade e com a reparação simbólica.
A série também propõe uma crítica ao modelo de canonização literária vigente. Por que certos nomes são lembrados e outros esquecidos? Que critérios definem o “valor literário”? Ao levantar essas questões, buscamos estimular uma reflexão coletiva sobre os processos de legitimação cultural — e abrir espaço para novas narrativas.
Ante a pergunta: “Por que certos nomes são lembrados e outros esquecidos?”, entendemos que é uma pergunta que toca o coração da crítica literária, da historiografia cultural e da própria política da memória. A resposta envolve múltiplos fatores — sociais, institucionais, ideológicos — que moldam o que chamamos de cânone literário.
Autores que tiveram acesso a editoras, universidades, jornais e academias tendem a ser mais lembrados. A publicação em grandes centros (como Rio ou São Paulo) aumenta a visibilidade nacional, enquanto autores periféricos — como muitos maranhenses — ficam restritos ao circuito local.
O que é considerado “literário” ou “valioso” muda com o tempo, mas por muito tempo foi dominado por uma visão eurocêntrica, masculina e elitista. Poetas que escreviam fora desses moldes — com linguagem popular, temas regionais ou vozes dissidentes — foram ignorados ou desqualificados. Como aponta João Alexandre Barbosa, o cânone brasileiro foi moldado por sucessivas histórias literárias que buscavam representar uma “inteligência nacional”, mas que excluíam vozes fora do eixo dominante.
O cânone funciona como uma tecnologia de poder, que reproduz exclusões raciais, sociais e de gênero. Autores negros, indígenas, mulheres e LGBTQIA+ foram sistematicamente silenciados, como mostra o estudo sobre colonialidade nos cânones brasileiros.
Sem crítica literária, sem republicações, sem presença em currículos escolares, a obra desaparece do imaginário coletivo. Muitos poetas ludovicenses, por exemplo, publicaram em jornais locais, mas nunca tiveram seus textos organizados em livros ou estudados academicamente.
O esquecimento não é natural — ele é construído. É resultado de escolhas editoriais, políticas culturais e disputas de poder simbólico. Como afirma Benício Mackson Araújo, o cânone é formado por preferências que refletem ideologias e relações sociais, e não apenas mérito literário.
A série Sociedade dos Poetas Esquecidos é uma resposta direta a esse processo. Ao trazer à tona nomes apagados, não apenas se recupera essas obras — se reorganiza o mapa da memória literária. E mais: se desafia o próprio conceito de cânone, propondo um olhar plural, inclusivo e regional.
Quanto à questão de “valor literário”, é frequentemente tratado como uma evidência natural — como se certas obras fossem intrinsecamente superiores e outras, por consequência, descartáveis. No entanto, uma análise crítica revela que esse valor é resultado de processos históricos, sociais e institucionais que moldam o que se entende por literatura legítima. Este artigo propõe uma reflexão sobre os critérios que definem o valor literário, suas implicações excludentes e as possibilidades de resistência e ampliação desse campo.
Historicamente, o valor literário tem sido associado a critérios como originalidade formal, profundidade temática, complexidade simbólica e domínio da linguagem. Críticos como Antonio Candido e Leyla Perrone-Moisés contribuíram para consolidar uma tradição que valoriza a “forma bem realizada” e o “engajamento com o humano”. No entanto, esses critérios não operam isoladamente — eles são atravessados por relações de poder, acesso institucional e disputas simbólicas.
Autores que circulam em grandes editoras, universidades e centros culturais têm maior chance de serem reconhecidos, enquanto vozes periféricas — regionais, populares, dissidentes — são frequentemente ignoradas. O valor literário, portanto, não é apenas uma questão de mérito estético, mas de visibilidade e legitimação.
A exclusão literária opera por meio de diversos dispositivos:
Geográficos: autores fora dos grandes centros (como São Luís) enfrentam barreiras de circulação e reconhecimento.
Sociais: escritores negros, indígenas, mulheres e LGBTQIA+ foram historicamente silenciados.
Estéticos: produções que não se alinham ao padrão erudito ou acadêmico são desqualificadas como “menores”.
Institucionais: ausência em currículos escolares, antologias e acervos públicos contribui para o apagamento.
Esses mecanismos revelam que o valor literário é também uma tecnologia de exclusão, que reproduz desigualdades e limita o campo da escuta crítica.
Projetos como a série Sociedade dos Poetas Esquecidos, desenvolvida no Maranhão entre 2023 e 2025, propõem uma reconfiguração do valor literário. Ao resgatar poetas ludovicenses marginalizados, a série desafia o cânone e propõe uma escuta ampliada. A memória, nesse contexto, torna-se um ato político — uma forma de resistência contra o esquecimento institucionalizado.
A literatura não é apenas o que está nos livros consagrados — é também o que pulsa nos jornais locais, nos cadernos esquecidos, nos versos que não chegaram às prateleiras. Reconhecer esse valor é ampliar o horizonte da crítica e democratizar o acesso à produção simbólica.
O valor literário não deve ser entendido como um selo fixo, mas como um campo em disputa. Cabe à crítica contemporânea revisar seus critérios, incorporar novas vozes e reconhecer que a literatura é múltipla, diversa e em constante transformação. Ao ampliar o escopo da escuta, não apenas enriquecemos o repertório cultural — reparamos injustiças históricas e construímos uma memória mais justa e representativa.
A Sociedade dos Poetas Esquecidos é, acima de tudo, um projeto de resistência. Contra o esquecimento, oferecemos memória. Contra o silêncio, oferecemos voz. E contra a exclusão, oferecemos presença. Que esses poetas, antes esquecidos, possam agora habitar com dignidade o espaço da nossa história literária.
REFERÊNCIAS
BARTHES, Roland. Crítica e verdade. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019.
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Trad. Daniela Kern e Guilherme João de Freitas Teixeira. Porto Alegre: Zouk, 2011.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 10. ed. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2006.
CEVASCO, Maria Eunice. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Loyola, 2001.
CANCLINI, Néstor García. A sociedade sem relato: antropologia e estética da iminência. Trad. Pablo Mariconda. São Paulo: Iluminuras, 2012.
DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: um território contestado. São Paulo: Editora da UNESP, 2012.
JUNIOR, Josias. Estudos culturais e valor literário. Todas as Letras, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 1–15, 2020. Disponível em: https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/16855. Acesso em: 31 ago. 2025.
MATHIAS, Dionei. Inclusão e exclusão: reverberações literárias. Signótica, Goiânia, v. 33, p. 1–20, 2021. Disponível em: https://revistas.ufg.br/sig/article/download/71007/38760. Acesso em: 31 ago. 2025.
PONTES JUNIOR, Geraldo. Os estudos culturais e a crítica literária no Brasil. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 53, p. 1–20, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/elbc/a/nBbv6R6DJwcxZmsLC7SkBGp/?format=pdf. Acesso em: 31 ago. 2025.
*


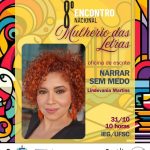
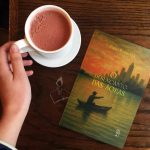

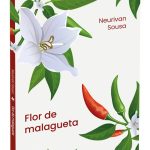
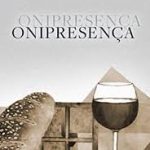


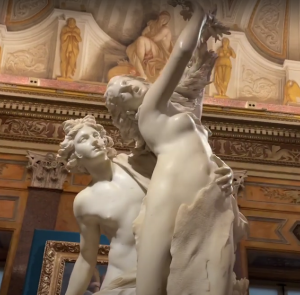

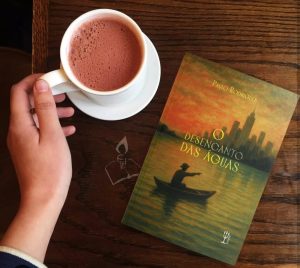

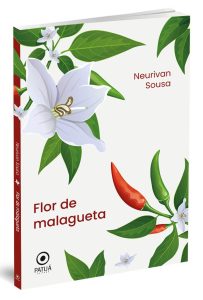
Uma iniciativa de muito valor. Os nossos poetas precisam sair da invisibilidade. Ainda estão na escuridão da Caverna, não conseguem olhar pelo menos as sombras. Este projeto que fomentará a visibilidade do poetas vai estimular a produção de obras literárias de todos os gêneros. Parabéns ao Antônio Ailton fundador do Sacada Literária.
Grato, caro Francisco Moreira, por acompanhar sempre o nosso Sacada, com comentários, palavras de estímulo e reconhecimento ao trabalho. O projeto é uma bela iniciativa do Leopoldo Vaz que estamos divulgando, ele merece. Abração! [AA]